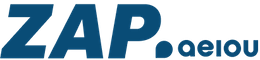Partidos que suportam o Governo querem eliminar o conceito de violência obstétrica. Europeias começam a acordar, diz Carla Santos em entrevista.
A lei sobre direitos na gravidez e no parto foi aprovada há apenas pouco mais de três meses, mas já pode cair nesta sexta-feira.
Os partidos que suportam o Governo, CDS-PP e PSD, querem eliminar o conceito de violência obstétrica.
Os dois partidos pretendem revogar a lei que, segundo o PSD, é “excessivamente lato e indesejavelmente vago”, defendendo também que a sua aplicação “poderia redundar na criação de um inaceitável estigma sobre médicos e profissionais de saúde, incentivando mesmo indesejáveis e perigosas práticas médicas defensivas”.
Diogo Ayres de Campos, director do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Santa Maria, reforçou no Público que este é um “conceito vasto”.
Corrigir, não cair
O Observatório de Violência Obstétrica em Portugal (OVO PT) acha que a lei vai ser mesmo revogada.
Uma lei que, sublinha Carla Santos, nem está em vigor. Foi aprovada no dia 31 de Março mas nunca foi aplicada na prática: “A lei podia cair sozinha se mais ninguém pegasse nela”. CDS e PSD querem revogar para “garantir que ninguém pega depois na lei para a aprovar”.
Em entrevista ao ZAP, Carla diz que o conceito violência obstétrica já é usado mundialmente.
No caso português, esta lei foi um passo mas não foi um passo muito bem definido. Em Abril, o OVO já avisava que a lei aprovada poucas dias antes é “insuficiente” e falha no seu foco.
Um dos artigos da lei, mais precisamente o Artigo 2º, define violência obstétrica “de forma bastante incompleta, traduzindo-a através de acções físicas e verbais, ou seja, a sua face mais visível. Fica omissa a violência psicológica e emocional, o exercício de poder, o acesso livre e democrático à saúde e acima de tudo, o consentimento”, lê-se em comunicado.
Carla Santos, do OVO, considera assim que a lei deve ser corrigida, não deve cair. E lamenta que, na altura, na Assembleia da República, “não alteraram uma vírgula. Não era uma prioridade, era indiferente, era só deixar passar”. Preferia que os deputados tivessem contribuído para um documento “bem suportado, robusto”.
O que está em causa são orientações médicas e toda a prática médica na obstetrícia (não só gravidez e parto).
Mas há um problema, indica o elemento do OVO: “É tudo conceptualizado a partir de uma visão masculina, muito centrado em protocolos que não ouvem a mulher, as suas necessidades, as suas queixas”.
“É uma forma unilateral de fazer medicina, de seguir um parto. Não tem em conta que há muitas ramificações no parto. Não tem em conta que a mulher pode ter decisões no processo, sobre o próprio corpo”, continua.
Carla avisa que a violência obstétrica “também é institucional”, passando pela falta de acesso a cuidados de saúde”.
Embora, comparando com a primeira conversa que teve connosco em 2021, agora há mais hospitais em Portugal que se tenham virado para um parto mais cuidado, mais humanizado: além da Póvoa de Varzim e do Garcia da Orta, o Fernando Fonseca passou a ser uma “referência” a este nível, além de alguns “relatos pontuais” dos hospitais no Barreiro e em Vila Franca de Xira.
Europeias acordam
O CDS alega que o conceito de violência obstétrica “não está alinhado com os padrões seguidos noutros países da União Europeia”. Diogo Ayres de Campos acrescenta que só há leis assim na America Latina.
Esta foi mais uma declaração que reforçou a posição do OVO, que retirou a confiança ao director no Hospital Santa Maria.
“Estes médicos não entendem uma coisa muito simples: a Europa capitalizou os processos sexuais e reprodutivos das mulheres. A medicina na Europa é tendencialmente privada e as europeias acham que os seus padrões de saúde são superiores (é um facto), mas só pensam em violência e agressão – a violência obstétrica também é isso, mas não é só isso: a mulher não toma decisões conscientes sobre o seu corpo“.
Mas as europeias estão a acordar, relata Carla: começaram a surgir movimentos de violência obstétrica na Europa, depois do seu início na América Latina – onde se começaram a acumular situações gravíssimas de falta de acesso à saúde.
Obstruir acesso à saúde reprodutiva não é só haver pouco acesso a hospitais, também é capitalizar os processos sexuais das mulheres, argumenta Carla Santos, que cita uma das indicações do CDS na sua proposta sobre o aborto, onde indica que “a escolha da mulher deveria seguir pelo sector privado”.
Na Europa, as mulheres estão agora a “começar a perceber o que é isto da violência de género. Porque ela é muito mais subliminar. Na América Latina essa violência é muito mais palpável, mais concreta, por isso há mulheres muito activas. E temos muito a aprender. Aqui não conseguimos ver essa violência tão facilmente, como em casos de cesarianas programadas.
“Há aqui algum interesse”
O director do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Santa Maria, Diogo Ayres de Campos, fala em “lei precipitada” e avisa que “agrupar todas as experiências negativas é complicado, há muitas causas que estão todas no mesmo saco – umas são crime, mas noutras não há dolo na maioria das situações, as quais se deve corrigir e não criminalizar”.
Cada caso é um caso? “Falta uma actualização brutal no Serviço Nacional de Saúde a nível do cuidado da mulher”, começa por responder Carla Santos, que percebe porque há essa desactualização: “As equipas estão sobrecarregadas, os profissionais mal têm tempo para as suas próprias famílias, quanto mais para actualizarem as suas práticas”.
A responsável do OVO concorda que não devemos legislar actos médicos. “Percebemos isso. Contudo, declarações como as de Diogo Ayres de Campos estão a silenciar, refutando e negando uma lei protectora para as mulheres, que combate a violência do género; e faz isso em vez de contribuir para que esta lei seja mais robusta e mais eficaz a proteger as mulheres, antagoniza as mulheres e as lutas das mulheres”.
Carla critica também o mansplaining, que “vem explicar às mulheres o que está errado”.
“Precisamos de construção, de uma lei que sirva as mães e os profissionais de saúde. Precisamos de médicos e enfermeiros capacitados, actualizados, formados. Porque não há saúde sem médicos – a falta de médicos, de profissionais, também é violência obstétrica”, avisa.
Carla desabafa que “há aqui algum interesse que não estamos a perceber, em defender a classe dos médicos – e nós não estamos nem queremos atacar qualquer classe”.
“Qualquer pessoa que siga obstetrícia e saúde sexual e reprodutiva das mulheres, à partida, deveria ser feminista. Digo eu”.