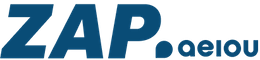(dr) Envato Elements

A fertilização artificial dos oceanos teria de acontecer a um nível que aumentasse o número de microalgas, mas não o suficiente para arriscar a toxicidade.
As sucessivas tentativas falhadas dos humanos em mitigar de forma decisiva e eficaz as alterações climáticas levaram os cientistas a examinar abordagens mais drásticas, tais como a fertilização dos oceanos para combater o enorme excesso de dióxido de carbono. “Neste momento, o tempo é essencial”, descreve Michael Hochella, cientista do Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico do Departamento de Energia dos EUA.
“Para combater o aumento das temperaturas, temos de diminuir os níveis de CO2 à escala global. Considerar todas as opções, incluindo a utilização dos oceanos como sumidouro de CO2, dá-nos a melhor hipótese de arrefecer o planeta”. O fitoplâncton, uma variedade fotossintetizadora de microrganismos que flutuam na superfície do oceano, é um dos principais componentes da bomba biológica do ciclo do carbono que retira o CO2 do ar para armazenar nas profundezas do oceano.
Os pequenos organismos precisam de minerais como o ferro para crescer e multiplicar-se, mas com eles só flutua uma quantidade fixa na superfície das águas, o que limita a quantidade de fitoplâncton que pode florescer. Assim como o fertilizante pode ajudar os organismos fotossintetizadores a florescerem em terra, a mesma ajuda poderia – teoricamente – ser oferecida aos comedores de luz solar que flutuam nos nossos mares.
Por exemplo, as baleias efetuaram um enorme pedaço de fertilização natural dos oceanos, alimentando o plâncton com os nutrientes de outro modo fora do alcance através de plumas gigantescas de cocó. Antes da atividade baleeira industrial diminuir drasticamente o número de baleias, as baleias ajudaram a remover cerca de 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano através deste processo; agora está mais perto das 200.000 toneladas.
Assim, ao adicionar artificialmente este fertilizante em falta, poderia estimular-se estes micróbios a crescer e reproduzir-se, sugar mais CO2 do ar, e transportá-lo com eles para as suas mortes. O CO2 é armazenado no fundo do oceano nesta fase, de volta ao local onde a maior parte do excesso foi libertado graças a atividades humanas.
Esta conclusão poderia sequestrar carbono durante centenas de milhares de anos, tal como os combustíveis fósseis.
As formas solúveis maiores dos nutrientes necessários não tendem a permanecer perto da superfície durante tempo suficiente para serem consumidas pelo fitoplâncton, explica a equipa, por isso os investigadores voltaram-se para as nanopartículas. Nanopartículas como óxidos de ferro e oxidróxidos de ferro são fertilizantes oceânicos naturais de fontes como cinzas vulcânicas e sedimentos do solo.
“A ideia é aumentar os processos existentes”, diz Hochella. “Há séculos que os humanos fertilizam a terra para cultivar culturas. Podemos aprender a fertilizar os oceanos de forma responsável“.
A fertilização artificial dos oceanos teria de acontecer a um nível que aumentasse o número de microalgas, mas não o suficiente para arriscar a toxicidade.
Alguns dos estudos que a equipa avaliou conseguiram alcançar um aumento de 35-756% de crescimento e abundância de algas em comparação com os controlos. Além disso, parece que a afinidade da nanopartícula com as superfícies celulares (neste caso, fitoplâncton) dita quanto é absorvido, em vez de concentrações, pelo que poderia ser libertado a níveis equivalentes aos que já se encontram na água do mar.
Algumas experiências descobriram que o crescimento do fitoplâncton acelera utilizando fertilizantes oceânicos acabando por esgotar outros nutrientes circundantes que não eram fornecidos artificialmente. Isto estagnou o seu crescimento, o que significa que os futuros fertilizantes poderão precisar de incorporar mais minerais.
“Se se conseguir uma redução considerável de CO2 utilizando nanopartículas artificiais, isto pode permitir aplicações da abordagem como tecnologia de remoção de dióxido de carbono em escalas menores ou locais específicos”, explica a equipa no seu documento, “e assim dissipar algumas das preocupações relativas aos riscos de geoengenharia de todo o ecossistema marinho e ‘roubo de nutrientes’ a jusante”.
Como em qualquer manipulação em larga escala do ambiente, esta proposta não surge sem riscos significativos. “Embora existam nanopartículas naturais na maioria dos cenários oceânicos, os potenciais riscos ambientais adversos de adicionar [nanopartículas artificiais] ao oceano requerem uma avaliação rigorosa“, advertem Babakhani e colegas.
Nenhuma destas partículas foi submetida a um estudo focalizado em condições realistas, pelo que esta ideia ainda se encontra em fase de brainstorming.
O impacto a longo prazo das nanopartículas sobre a biogeoquímica dos oceanos é desconhecido, especialmente à luz da sua tendência para se agregarem ao longo do tempo nos ecossistemas marinhos, potencialmente sufocando a vida abaixo da superfície do oceano.
Os investigadores esboçaram um plano para começar a abordar as numerosas preocupações. Mas estimam que embora a engenharia das nanopartículas correctas seja substancialmente mais dispendiosa do que a utilização de materiais existentes, dar-nos-ia a capacidade de as adaptar às necessidades de ambientes específicos (aqueles que necessitam de mais silício ou ferro, por exemplo), tornando-as mais eficazes.
Embora a necessidade de tais intervenções extremas esteja a tornar-se cada vez mais provável, os investigadores reconhecem que elas devem ser abordadas com extrema cautela. Entretanto, já dispomos de métodos de geoengenharia fiáveis e muito mais bem compreendidos: proteger o que resta e restaurar ecossistemas perdidos e degradados.