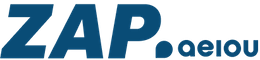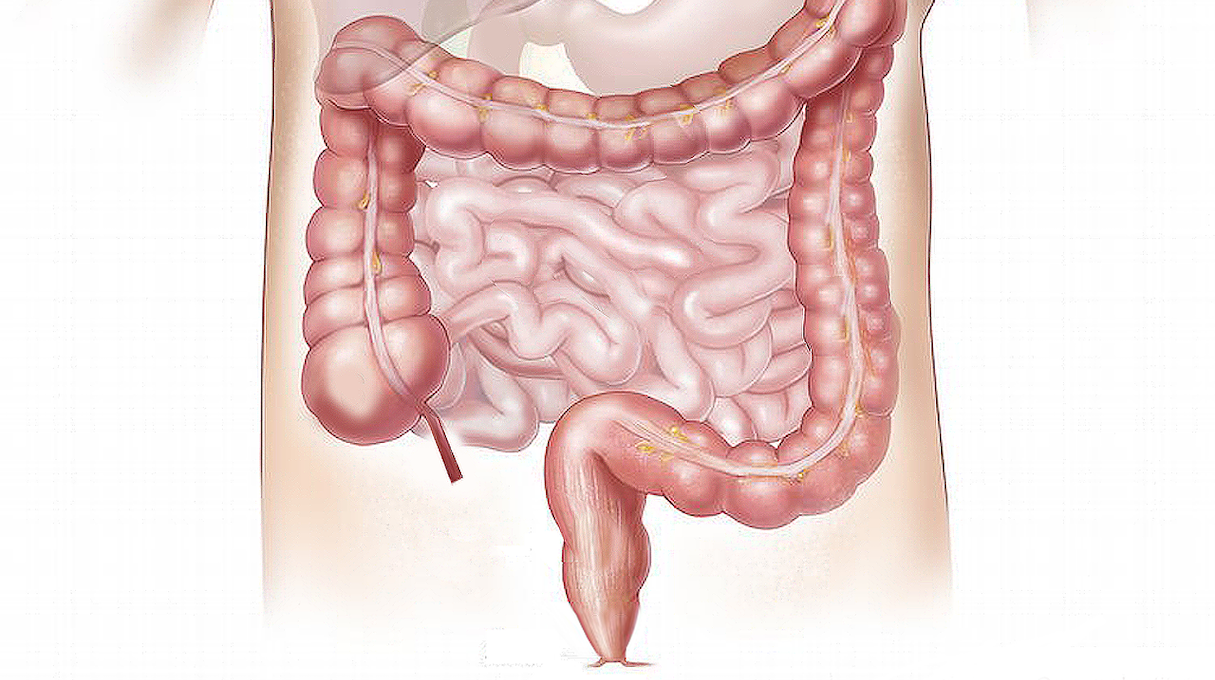Mohamed Siali / EPA

“Não se deve expulsar as pessoas da sua terra ou do seu país, não à força”, dizia o poeta argentino Juan Gelman (1930-2014).
Mas existem em todo o mundo cerca de 281 milhões de migrantes internacionais (3,6% da população mundial), segundo os dados da ONU de 2020.
Algumas pessoas emigram porque assim desejam, mas outras são obrigadas a emigrar. No final de 2019, as pessoas deslocadas à força já eram mais de 79,5 milhões, segundo a ACNUR, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados.
O psiquiatra espanhol Joseba Achotegui é secretário da Associação Mundial de Psiquiatria e trabalha com temas relacionados à migração, tendo começado a observar certas mudanças em 2002.
“As fronteiras foram fechadas, foram criadas políticas mais rígidas contra a migração, as pessoas deixaram de ter acesso a documentos e havia uma enorme luta pela sobrevivência”, contou ele à BBC News Mundo — o serviço de notícias em espanhol da BBC.
Essa nova situação refletiu-se nos pacientes que o consultavam. “Estavam indefesos, assustados, não conseguiam seguir adiante”, segundo ele.
Concretamente, observou que muitos migrantes que passam por situações difíceis apresentavam “um quadro de reação de stress muito intenso, crónico e múltiplo”. Achotegui deu a esses sintomas o nome de “síndrome de Ulisses”.
O psiquiatra esclarece que não se trata de uma patologia, já que “o stress e o luto são normais na vida”, mas salienta a peculiaridade da síndrome que deixa o migrante, novamente, numa fronteira — não geográfica, mas psicológica, entre a saúde mental e o transtorno.
Luto migratório
Normalmente associamos a palavra “luto” ao sentimento que surge após a morte de um ente querido. Mas os psicólogos relacionam o termo a qualquer perda sofrida pelo ser humano, como sair de um trabalho, a separação de um casal ou mudanças no nosso corpo.
“Cada vez que experimentamos uma perda, precisamos de nos acostumar a viver sem o que tínhamos e adaptar-nos à nova situação. Ou seja, é preciso trabalhar o luto”, explica a psicóloga espanhola Celia Arroyo, especialista em luto migratório.
Assim, o luto migratório está associado a essa grande mudança na vida de uma pessoa. Mas tem características que o tornam especial, já que é um luto “parcial, recorrente e múltiplo”.
Parcial porque não é uma perda total, como com a morte de alguém; recorrente porque, como em qualquer viagem, pode ser reaberto com a comunicação com o país ou simplesmente vendo uma fotografia no Instagram; e múltiplo, porque não é só uma coisa que se perde, mas muitas.
Joseba Achotegui reuniu essas perdas em sete categorias.A mais evidente costuma ser a perda da família e dos entes queridos. Existe também a perda de estatuto social – algo que, segundo Arroyo, costuma ocorrer com a condição de migrante, mas se, além disso, “o país for xenófobo, surge uma grande adversidade”.
Outro luto para o migrante é o da perda da terra: sentir falta, por exemplo, de uma paisagem montanhosa ou dos dias cheios de sol.
Soma-se ainda o luto do idioma, que será mais forte nos casos de migração para um país onde se fala outra língua. Pode ser uma forte barreira, por exemplo, para trâmites burocráticos ou para mandar um simples email.
Existe também a perda dos códigos culturais, que pode representar algo simples como não ter com quem dançar uma música típica ou tomar uma bebida local do país de origem.
E, associada a essa perda, encontra-se a perda de contacto com o grupo de pertença – aqueles com quem podemos falar nos mesmos códigos, que entenderão as nossas gírias e a forma de ver a vida.
A síndrome de Ulisses ocorre quando, além de precisar passar por estes lutos normais, o migrante enfrenta condições difíceis, segundo explica Achotegui.
Fatores desencadeantes
“Quando há dificuldades ou a pessoa é rejeitada na sociedade que a acolhe, esta síndrome pode acontecer”, explica Guillermo Fauce, professor de psicologia da Universidade Complutense de Madrid, em Espanha, e presidente da organização Psicologia sem Fronteiras.
Chegar a um país novo com um trabalho estável é muito diferente de não ter nenhuma segurança; da mesma forma que ter ou não garantia de teto e comida, ou entrar com visto ou com estatuto legal a definir. Ter ou não certas condições acrescenta pontos e stress.
“A rejeição que pode causar mais impactos é não ter documentos ou não poder ter acesso a determinados recursos”, afirma Fauce.
Já Achotegui explica que esta situação faz com que os migrantes não consigam seguir adiante, gerando tensão e problemas de sobrevivência – outro fator desencadeante da síndrome.
Pode-se acrescentar ao panorama não ter pessoas ao nosso redor para oferecer apoio, não apenas material (onde morar, comer e dormir), mas também emocional. “Muitos migrantes sofrem situações de solidão“, destaca Achotegui.
Fauce assinala que existe também um apoio simbólico que, quando ausente, torna-se outro fator desencadeante. Trata-se do reconhecimento e da compreensão das condições do migrante, “que ele está a passar por uma situação complicada, a atravessar muitos lutos”.
Às vezes, pode-se pensar que “o pior” já passou ao cruzar a fronteira em más condições. Mas, no país de acolhimento, a sensação de estar indefeso, sem direitos e os possíveis abusos trabalhistas e sexuais podem dar lugar a um quarto fator desencadeante: o medo.
Os especialistas consultados acrescentam que esta situação de vulnerabilidade pode ocasionar a síndrome de Ulisses, principalmente entre as mulheres.
O que se fazer ou não fazer
“É fundamental criar uma rede de apoio social, manter contacto com outros imigrantes e partilhar casas”, destaca Celia Arroyo. Para isso, é bom procurar migrantes da mesma nacionalidade ou grupos de apoio específicos.
Achotegui afirma que isso traz “menos risco de transtornos mentais”, mas ficar muito ancorado na comunidade de origem pode causar menos progressos. “Se não se integrar à sociedade de acolhimento, o progresso será difícil. É questão de equilíbrio”, explica.
Ou seja, o caminho é manter “as raízes” com água, mas sem esquecer as folhas, que devem ficar onde possam receber sol. Achotegui também recomenda fazer exercícios e atividades que reduzam o stress.
Já Fauce destaca que “cortes radicais não funcionam, nem decisões drásticas”, seja com relação ao país de origem ou ao de acolhida, bem como às relações criadas nos dois países.
Arroyo destaca que, embora seja difícil fornecer um tempo preciso, se o sofrimento não for reduzido três meses depois de se atingir a estabilidade, é bom pedir ajuda psicológica.
ZAP // BBC