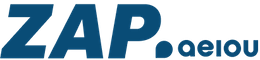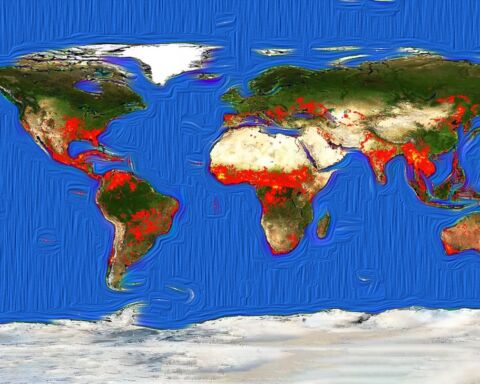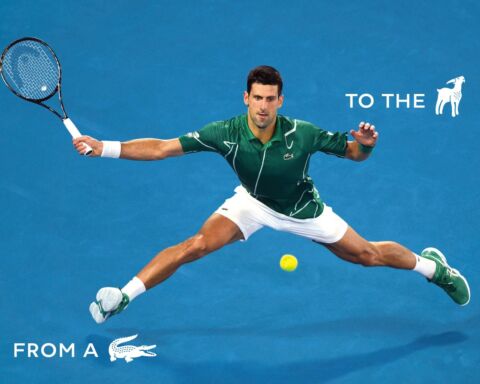Esta prática bizarra, que atingiu o seu auge no século XVIII, teve origem em erros de tradução de documentos medievais — que deram origem a uma grande procura de sepulturas egípcias, e criaram um próspero mercado negro de pó de múmia falso.
Durante quase 700 anos, os europeus ricos consumiram múmias egípcias como um medicamento mágico, acreditando que estes restos mortais ancestrais tinham propriedades curativas.
A estranha tradição começou com o betume, um produto petrolífero viscoso que ocorre naturalmente perto do Mar Morto, conta o ExplorersWeb.
As civilizações antigas usavam betume para impermeabilização de superfícies e como material de construção, havendo evidências arqueológicas do seu uso que remontam a dezenas de milhares de anos.
Na era clássica, o betume tornou-se um medicamento popular. O naturalista romano Plínio, o Antigo documentou 27 aplicações medicinais deste líquido de cor escura — incluindo o tratamento de epilepsia, lepra e dor de dentes.
Após a queda de Roma, os estudiosos muçulmanos preservaram este conhecimento médico. Médicos árabes como Avicena prescreviam betume para concussões e paralisia, chamando-lhe “mūmiyah” — da palavra persa para “cera”.
Esta terminologia revelou-se crucial para a confusão que viria posteriormente a instalar-se — e que perduraria durante séculos.
As antigas múmias egípcias nem sequer estavam revestidas com betume, mas o seu revestimento de resina escura assemelhava-se ao líquido viscoso, o que levou algumas pessoas a acreditar que as duas substâncias eram idênticas.
No século XII, o tradutor italiano Gerardo de Cremona deparou-se com referências árabes ao mūmiyah medicinal e interpretou-o como proveniente de sepulturas egípcias, descrevendo-o como “líquido dos mortos misturado com especiarias de conservação”.
Este erro de tradução criou uma tempestade perfeita, e os cruzados que regressavam do Médio Oriente trouxeram consigo a moda dos medicamentos de betume.
Mas os fornecimentos naturais de betume, formado por hidrocarbonetos e que pode tanto ocorrer na natureza como ser obtido artificialmente num processo de destilação do petróleo, eram limitados.
Os comerciantes alexandrinos empreendedores aperceberam-se de que tinham disponíveis grandes quantidades de “mumia”, que cobria os cadáveres dos antigos egípcios, e começaram a saquear sepulturas, desfazendo os corpos resinosos para recolher e exportar o líquido viscoso para a Europa.
Um remédio popular
A “mumia” tornou-se extremamente popular em todo Velho Continente, sendo vendida em qualquer boticas bem abastecida.
A influente farmacopeia “Theatrum Botanicum” listava em 1640 a mumia como tratamento para dores de cabeça, convulsões, problemas cardíacos, envenenamento, mordidas de cobra e inúmeras outras maleitas. Os tratamentos combinavam tipicamente mumia com vinho ou leite de cabra.
O rei francês Francisco I trazia habitualmente consigo uma mistura de ruibarbo e mumia, e o químico do rei inglês Carlos II recomendava especificamente o uso de mumia líbia. Entre 1618 e 1747 o Colégio Inglês de Médicos incluiu a múmia na sua farmacopeia oficial, descrevendo-a como “algo acre e amarga“.
Mas nem tudo corria bem na cadeia de fornecimento. As autoridades egípcias opunham-se ao saque de túmulos e exportação de cadáveres.
Em 1428, funcionários do Cairo capturaram e torturaram várias pessoas ligadas a um esquema de tráfico de múmias, que confessaram roubar túmulos e ferver corpos mumificados para extrair óleo vendável.

Vaso de boticário (Albarello) com inscrição “MUMIA”, datado do século XVIII no Deutsches Apothekenmuseum Heidelberg, Alemanha.
Apesar das proibições de exportação, a aplicação da lei era frequentemente negligente — em particular com a ajuda de um simpático suborno. Em 1586, o comerciante inglês John Sanderson conseguiu exportar com sucesso 272 kg de restos mumificados, depois de aplicar “subornos e cumprimentos corretos”.
A elevada procura de mumia levou também à falsificação generalizada do líquido mágico. Muitos vendedores acharam mais fácil obter cadáveres frescos de criminosos executados, vítimas da peste e pessoas escravizadas em vez de escavar túmulos antigos.
O viajante italiano Ludovico di Varthema documentou a produção local de mumia a partir de viajantes do deserto recentemente falecidos — ou de uma fonte um pouco mais dispendiosa: “corpos secos e embalsamados de reis e príncipes“.
Entretanto, o famoso médico e alquimista suíço Paracelso, considerado o “pai da toxicologia”, veio dar um impulso extra ao comércio de múmia, argumentando que qualquer carne humana preservada continha energia vital benéfica.
Para fazer a sua múmia, Paracelso deixava um corpo fresco exposto ao ar livre. Os melhores corpos eram de homens jovens e saudáveis que tivessem morrido subitamente. Numa das suas receitas, especifica a sua preferência por “um homem ruivo de 24 anos que tivesse sido executado recentemente”.
No século XVI, os profissionais médicos começaram a questionar a prática. O cirurgião Ambroise Paré publicou um tratado de 1582, no qual argumentava que a maioria da múmia era fabricada em França a partir de cadáveres recentes e causava perturbações estomacais e mau hálito em vez de cura.
Por essa altura, o médico alemão Leonhart Fuchs identificou finalmente os erros de tradução medievais que tinham criado o conceito de “mumia” e denunciou a “estúpida credulidade de certos médicos da nossa geração” que ainda prescreviam a mezinha.
No final do Era Vitoriana, a múmia tinha finalmente caído em desuso — mas continuou disponível para venda, e a ser ocasionalmente prescrita, até ao início do século XX.
O medicamento foi visto à venda pela última vez num catálogo da Merck de 1908. A farmacêutica alemã anunciava “múmia egípcia genuína enquanto houver stock, 17,5 marcos por quilograma“.
Assim, os europeus ricos acabaram por não comer todas as múmias — antes de mais, porque os arqueólogos continuam a encontrá-las. Mas quase um milénio de saques no Egito levou à perda de conhecimento histórico e cultural incalculável — a troco de uma panaceia que prometia curar todos os males.