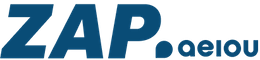A queda do regime de Saddam Hussein, há 20 anos, ficou imortalizada na imagem da destruição de uma estátua, na praça do Paraíso em Bagdade, que foi a primeira de muitas, numa transição que conduziu o Iraque ao caos.
Os militares norte-americanos tomaram sem grande resistência Bagdade, em 09 de abril de 2003, com todo o regime em fuga. A busca pelos seus protagonistas foi simbolizada pelos invasores por um baralho de cartas, sendo o ‘ás de trunfo’ o ditador iraquiano, cujas omnipresentes estátuas na capital caíam uma por uma.
E nada tomou o lugar do regime iraquiano e a capital tornou-se num completo caos, como testemunharam então um jornalista e um fotojornalista portugueses, ao serviço da revista Visão.
Uma semana depois de o regime de Saddam cair, preparava-se a queda de outra estátua, ainda maior, em bronze. Desde as 15:00 que uma multidão tentava derrubar a gigantesca imagem, a que já faltava o braço esquerdo, enquanto o direito continuava a saudar aqueles populares. Fazia-se pontaria com chinelos à cabeça da estátua, que tinha um cabo enrolado à volta do pescoço, puxado por braços que juntavam a sua força à de um camião do lixo.
De repente, um aviso – “Cuidado!” – e uma ordem – “Corram!” – e rajadas de Kalashnikov partiam de um carro amarelo de “fedayins” ainda leais ao ditador, meio minuto de fogo que colocou dezenas de pessoas em fuga. Mas aos poucos a multidão reagrupou-se. Não tinha medo, estava em transe. A ‘festa’ não ficou estragada e ainda havia mais tiros para disparar.
Na ocupação de Bagdade, as forças anglo-americanas conseguiram sem dificuldade derrubar o regime e seus últimos resistentes, “fedayins” e Guarda Republicana, caídos em morte de joelhos nas ruas da capital iraquiana ao lado das suas armas automáticas ou lança-rockets RPG-7.
Por toda a cidade, começava a instalar-se a desordem generalizada.
“Não temos segurança, não há água para beber, eletricidade nas casas, nem dinheiro, porque as empresas fecharam”, desabafava Khaid Ibrahim, de 33 anos, um professor de Inglês que assistia àqueles momentos caóticos.
“Mas temos selvagens à solta e tiros em todo o lado, a toda a hora – é esta a liberdade prometida por [George W.] Bush e [Tony] Blair?”, questionava em referência aos então Presidente norte-americano e primeiro-ministro britânico, respetivamente.
Waleed Alheeti, um médico de 65 anos, apresentou-se de bata azul à porta do Hospital Yarmuk, mas recusou um doente que lhe apareceu em braços com a barriga atravessada por uma bala. “Não posso atendê-lo, aqui não se trata mais ninguém”. E recambiou o ferido para outro estabelecimento médico. Yarmuk estava fechado e a única paciente presente morreu na visita dos jornalistas.
Os bombardeamentos de Bagdade destruíram três dos quatro geradores do hospital. Sem energia elétrica e ameaçados pela onda de pilhagens que varria a cidade desde o fim do regime de Saddam Hussein, que não poupou esta e outras unidades hospitalares, os médicos ficaram em casa. Quando regressaram, tinham 24 cadáveres no interior em Yarmuk, que os familiares não reclamaram. Foram enterrados no próprio jardim do hospital.
Sem energia elétrica e ameaçadas pela onda de pilhagens que varria a cidade desde o fim do regime de Saddam Hussein, a maioria das artérias de Bagdade mostrava um quadro de lojas com as grades corridas. Alguns edifícios tinham as portas e janelas emparedadas. Cada vez mais trânsito, com muitas buzinas, gritos cruzados, um desrespeito quase total pelo código, como um jogo de ‘tetris’ nos cruzamento. As bagageiras dos carros estavam lotadas até ao limite com mobílias, eletrodomésticos, tapetes e víveres.
Os veículos circulam nas avenidas largas, sujas, entre prédios descuidados de tons crus e os destroços da cavalaria e infantaria iraquianas. Tudo roubado de um qualquer edifício público escancarado à loucura saqueadora da população.
As tropas anglo-americanas fechavam os olhos. Os blindados passavam pelas pilhagens, eventualmente acompanhadas com banda sonora de tiros de metralhadora, e deixando os ministérios à sua sorte.
Todos menos um: o do Petróleo, nos arredores da capital iraquiana, protegido por dois soldados, numa reveladora proteção documentada pelo fotojornalista Gonçalo Rosa da Silva.
A entrada do Ministério da Justiça era ladeada por duas estátuas com as mãos juntas e olhos postos no céu, como se pedissem misericórdia divina. Entre as duas imagens, escapavam-se pessoas às dezenas com mobílias e qualquer objeto que tivesse uma ficha para ligar à tomada. O inevitável retrato do ditador Saddam Hussein ainda lá estava na Justiça, intacto, com uma balança nas mãos e de olhos bem abertos, porque cega a sua justiça não era.
A cena repetia-se em todo lado. No Banco Central, numa rua estreita onde um dos prédios estava completamente esventrado pelo impacto de um míssil, eufóricos, alguns saqueadores atiravam notas ao ar. Outros irrompiam aos gritos no interior, como se tomassem um castelo.
“Precisamos de comer”, justificava um homem de meia-idade de ‘jellabah’ branca, tez clara e olhos azuis, que carregava uma cadeira e uma lâmpada de néon.
Espalhados no acesso ao Banco Central estavam dinares fora de validade, com a efígie de Saddam, também ela já fora de validade – o ditador seria enforcado três anos depois, quando o ‘ás de trunfo’ foi descoberto nos arredores de Tikrit, sua cidade natal.
Ahmed Shaker, de 51 anos, questionava-se: “Quando é que estes reles ladrões vão parar?”. Primeiro em tom calmo, depois em crescendo, ao recordar que os militares norte-americanos eram agora responsáveis pela segurança na cidade e que acima deles estava o então Presidente norte-americano. E, já irritado e de chinelo na mão, gritava um vigoroso “No Bush!”.
“Ali Babás! Ladrões!”, insurgia-se Satta Khatra, de 38 anos: “Os americanos não vieram”. Gritava sem medo para os salteadores da cidade perdida, arriscando-se a uma resposta à lei da bala – aparentemente a única que ainda existia.
Nos primeiros dias da ocupação anglo-americana, milhares de ladrões não pouparam hospitais, laboratórios clínicos e a própria memória do país.
Ouviam-se rajadas de metralhadora nos bairros, mas não era por causa dos tiros que Downi George tinha as mãos nervosas. O diretor de pesquisa e antiguidades do Museu Nacional abriu o cadeado que foi inútil para deter um dos saques mais mediatizados de Bagdade.
Nos escritórios, que guardavam estudos de escavações realizadas nos últimos cem anos, só restavam fotos de Saddam em quase todas as divisões, sobre papéis, ficheiros, microfilmes e material de escritório espalhado pelo chão. O resto foi pilhado, quando a polícia iraquiana abandonou o local e os tanques norte-americanos, demasiado tarde, entraram na rua em frente.
O arqueólogo Mohsen Kadhenisd encontrava-se no museu e assistiu a tudo. Correu para avisar os norte-americanos de que o espaço estava cercado e prestes a ser invadido. “Mas eles não vieram”, apesar de avisos prévios da UNESCO.
A Biblioteca Nacional e a Biblioteca Islâmica também foram pilhadas. Segundo um funcionário, desapareceu uma das versões mais antigas do Corão e um dos espólios mais importantes do Médio Oriente. “Se este país voltar à normalidade, os estudantes e os investigadores terão muitas dificuldades”, afirmou Ali Al-Guzay, de 45 anos, tradutor.
Ao mesmo tempo, a maioria xiita, subjugada pela minoria sunita sob o poder férreo de Saddam Hussein, ocupava parte do vazio deixado pela queda do regime, numa simbólica peregrinação a Kerbala a pouco mais mas de cem quilómetros da capital. Os imãs prometiam uma guerra santa caso os norte-americanos tomassem posições contrárias aos interesses dos xiitas do Iraque.
Entre 21 e 23 de abril, fizeram uma demonstração de força e de fé, anunciando a concentração de cinco milhões de crentes em Kerbala. Nunca se saberá se chegaram a ser tantos, mas nenhuma estimativa situa a assistência abaixo do milhão e meio de pessoas.
Muitos peregrinos caminhavam descalços e sem nada nas mãos – nem um saco de mantimentos – em direção aos templos de Hussein Ibn Ali e do seu irmão Abbas, os netos do profeta Maomé, desaparecidos em 680 d.C. na batalha de Taf. Esta peregrinação era proibida e reprimida por Saddam. Em abril de 2003, centenas de milhares caminharam de Bagdade, mas também da Síria e do Irão.
As manifestações xiitas estendiam-se a Bagdade, em frente do Hotel Palestina, em protesto contra a detenção de Mohamed Fartoussi, um importante líder religioso.
Saddam City, o gigantesco bairro-satélite de Bagdade onde residem mais de 2 milhões, depressa ganhou o nome de Al-Sadr, icónico líder dos pobres xiitas que ali tinham casa.
Em poucos dias, e com o regime já caído por terra, a revolta virava-se para novo alvo – o ocidente liderado pelos Estados Unidos. E o contínuo dos tiros em Bagdade tornava-se uma espécie de compasso que marcaria o ritmo dos anos seguintes.