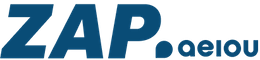Dguendel / Wikimedia

Hospital Fatebenefratelli em Roma
Uma doença mortal desconhecida, uma comunidade perseguida por um invasor impiedoso e um grupo de valentes médicos e religiosos.
Parece um enredo de filme de Hollywood, mas são os componentes de um episódio não muito conhecido da Segunda Guerra Mundial. Tudo aconteceu em Roma, no final de 1943. As tropas alemãs tomaram a capital italiana após a queda do seu aliado fascista Benito Mussolini.
Quando chegaram à “cidade eterna”, os soldados nazis começaram a procurar a comunidade judaica local, que, até então, tinha sido poupada da brutal perseguição que se verificou noutras regiões da Europa.
Nessa época, começavam a chegar informações sobre os campos de concentração nazis. E, para evitar a temida deportação, muitos judeus refugiaram-se em casa de vizinhos, mas principalmente em igrejas, conventos e até em hospitais administrados pela Igreja Católica.
E foi num desses centros de saúde que três médicos acolheram dezenas de pessoas e as diagnosticaram com uma doença mortal e terrível, da qual ninguém tinha ouvido falar até então. O que é perfeitamente natural, já que a doença nunca existiu.
Remédio original e perigoso
A 16 de outubro de 1943, Roma acordou sobressaltada. Os soldados alemães lançaram-se sobre o gueto judeu, a apenas três quilómetros de distância do Vaticano. E começaram a prender homens, mulheres e crianças. Mais de mil pessoas foram detidas.
Mas alguns tiveram a sorte de escapar e chegaram ao hospital São João Calibita, conhecido pelos romanos como Fatebenefratelli (“Façam o bem, irmãos”, em português).
Com 437 anos de história, o centro médico pertence à Santa Sé e fica em uma pequena ilha no rio Tigre. Dali, pode-se ver a Grande Sinagoga de Roma e o local onde, um dia, ficava o gueto.
Os nazis chegaram pouco tempo depois ao hospital para continuar a perseguição. Mas o então diretor do hospital, Giovanni Borromeo – católico fervoroso com bons contactos na Santa Sé –, recebeu os soldados e ofereceu-se para lhes mostrar o recinto.
Porém, ao chegar a uma sala, Borromeo advertiu que havia no local pessoas em isolamento. Apresentavam sintomas de uma estranha e perigosa doença que o hospital estava a começar a investigar.
O diretor disse aos alemães que se tratava da síndrome K, uma doença que descreveu como altamente contagiosa, que afetava o sistema neurológico, levando o paciente à morte.
“Chamamos-lhe ‘síndrome K’ devido ao comandante [Albert] Kesselring [responsável pela ocupação da Itália]”, afirmou o médico Vittorio Sacerdoti à BBC, em 2004. “Os nazis pensaram que fosse cancro ou tuberculose e fugiram.”
Sacerdoti, Borromeo e o médico e antifascista italiano Adriano Ossicini foram os autores intelectuais do artifício, que permitiu salvar dezenas de judeus da morte certa. Sacerdoti era judeu de origem e foi contratado por Borromeo para trabalhar no hospital romano, contrariando as leis discriminatórias aprovadas por Mussolini no final dos anos 1930, que proibiam a sua contratação.
Existem também versões que garantem que a doença fictícia recebeu o nome de síndrome K devido a Herbert Kappler, chefe em Roma da temida SS, o braço paramilitar do partido nazi alemão. Mas outros estudiosos oferecem explicações diferentes.
“Eles batizaram a doença de síndrome K para se aproximar da doença de Koch [a tuberculose], que estava a causar muitos problemas para as tropas de Hitler na Hungria e na Polónia, naquela época”, explicou à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, o escritor e sacerdote espanhol Jesús Sánchez Adalid.
Adalid publicou, no início de março, o romance Una Luz en la Noche de Roma (“Uma luz na noite de Roma”, em tradução livre), uma história de amor entre uma jovem abastada e um rapaz judeu, que se passa exatamente durante estes factos históricos.
Grande atuação
Borromeo, Sacerdoti e Ossicini elaboraram uma grande encenação. Começaram a fabricar os prontuários médicos dos judeus que, supostamente, teriam contraído a misteriosa doença. Para esta operação, precisaram da colaboração de muitas pessoas, dentro e fora do hospital.
Mesmo depois de a história da suposta doença mortal afastar os nazis, os médicos não baixaram a guarda e instruíram os judeus sobre o que deveriam fazer caso os soldados retornassem.
“O médico disse-nos que, se víssemos os alemães, precisaríamos de tossir com todas as forças e dar a impressão de que éramos doentes terminais“, declarou à rádio e TV pública alemã Deutsche Welle a sobrevivente Gabrielle Soninno, em 2019. Ela tinha apenas quatro anos quando foi “internada” no hospital católico.
Os nazis ‘engoliram’ a história?
“Os alemães enviaram médicos para o hospital, para confirmar a versão da doença”, explica Sánchez Adalid. “Mas conformaram-se com as explicações dos médicos italianos.”
“Talvez o medo do contágio ou o simples facto de não quererem perder tempo num hospital cheio de doentes fez com que fossem enganados”, afirma o escritor.
“Se os médicos alemães tivessem feito algum exame dos supostos doentes, teriam descoberto a mentira, mas não o fizeram.”
Em maio de 1944, as tropas nazis voltaram ao hospital e inspecionaram-no. Mas, quando se aproximaram do quarto onde estavam os judeus isolados, o ruído da tosse fez com que passassem à frente.
Um mês depois, as forças aliadas liberaram Roma e os supostos pacientes internados no hospital receberam “alta”.
O Yad Vashem, memorial oficial do Holocausto em Israel, homenageou Borromeo postumamente em 2004, nomeando-o “justo entre as nações“. Esta honra é reservada às pessoas que salvaram ou ajudaram a salvar vidas de cidadãos judeus durante a Segunda Guerra Mundial.
Não se sabe até hoje quantas pessoas foram salvas dos nazis pela síndrome K.
O hospital foi apenas um dos lugares em que a Igreja Católica salvou os judeus do extermínio na Europa. “A Igreja salvou pelo menos 4480 judeus naquele hospital, em igrejas, monastérios e conventos”, segundo Sánchez Adalid.
“As pessoas contaram-me que, quando a Gestapo chegou a Roma, ficou surpreendida ao ver que, em alguns conventos, havia até 70 freiras. É claro que muitas delas não eram freiras, mas sim mulheres judias disfarçadas. As religiosas inventaram explicações sem sentido para enganar os nazi”, afirma.
ZAP // BBC